Na Economia da Atenção, precisamos de psicologia e política
Oferta de conteúdo, serviços, promoções, prazeres e vícios informacionais tornaram atenção um "bem" escasso. Lidar com isso requer trazer estudos ao debate e pensar nos acordos que faremos
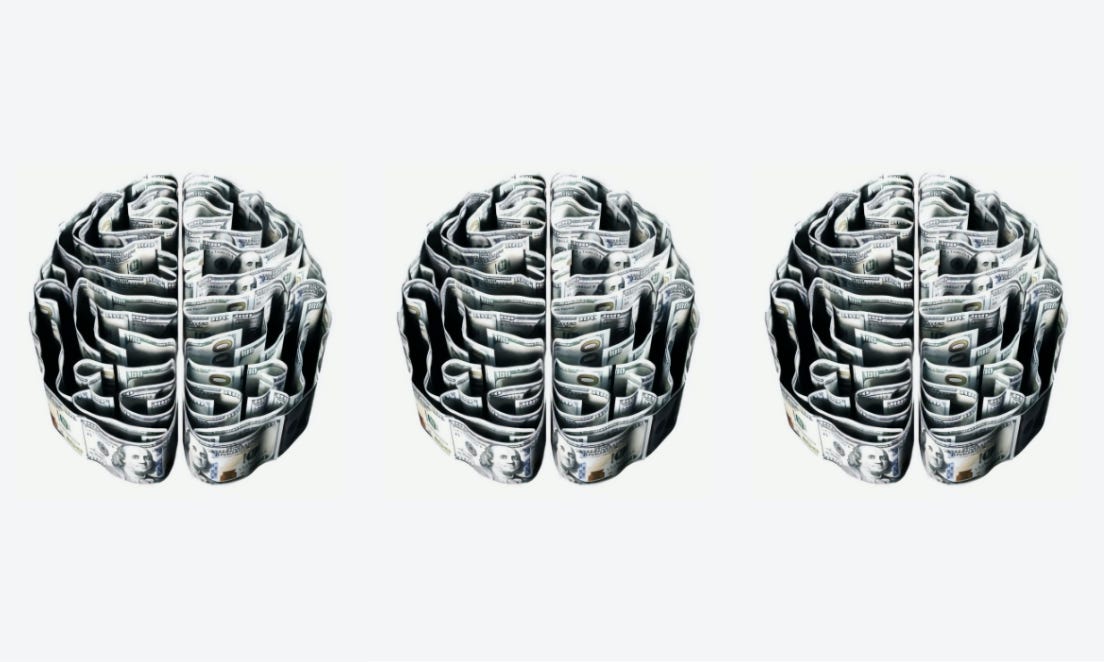
Quando falamos em Economia da Atenção, designers e product managers podem se ver em uma corda bamba entre impulsionar o que Dave McClure batizou de “métricas piratas” — AARRR!!!, de aquisição, ativação, retenção, referência e receita1 — e, ao mesmo tempo, encontrar padrões éticos, saudáveis e sustentáveis no desenho, construção e evolução de produtos digitais.
Equilibrar interesses de negócio e advogar a favor de usuários nunca foi uma questão simples (veja-se as brigas e polêmicas em torno da indústria tabagista, de fast food e na regulação da publicidade infantil na TV, no passado). Atualmente, encontrar essa sintonia é uma tarefa ainda mais complexa à medida que o capital se torna mais e mais cognitivo.
O conceito de “Economia da Atenção”, teorizado na década de 1970 e impulsionado no início do século XXI, com a explosão da internet, do acesso e consumo de informações, está no cerne deste dilema.
Entendê-lo de forma aprofundada pode nos ajudar, como profissionais, empreendedores e consumidores, amplia a dimensão da questão e um pouco do que está sendo feita para, ao menos, debatê-la.
Psicologia e história da atenção
Raciocinar ou intuir o que é “atenção”, com base em estudos de psicologia cognitiva e comportamental, é fascinante. Tecnicamente, “atenção” é um processo tanto cognitivo como comportamental de nos concentrarmos seletivamente, aqui e agora, em determinadas informações, sejam subjetivas ou objetivas, enquanto ignoramos outras.
De modo superficial, podemos pensar em atenção como o ato de nos concentrarmos voluntariamente, por nossa própria “intenção”, no que se passa em nossos pensamentos ou na realidade externa, mas não é só isso. Não temos controle total e preciso, a todo momento, sobre o processo. Podemos ter dificuldade de focar em algo por interferência do nosso próprio fluxo de pensamentos ou por distrações externas, como um som ou movimento.
Nem mesmo temos consciência, rotineiramente, ao que estamos prestando atenção. E quando prestamos atenção a este fato, é como se usássemos o mesmo mecanismo para processar a si mesmo — prestar atenção sobre o fato de estarmos prestando atenção, em resumo, requer atenção.
Nos princípios da Medicina e da Psicologia, pensava-se que atenção era apenas algo vulnerável e volátil entre seduções da imaginação e do mundo externo. A partir do século XVIII, no rastro da ciência, do racionalismo e do antropocentrismo, começa a ser entendida como algo que poderia ser moldada pela “disciplina” — que, por vez, se torna fundamental à educação — e que, portanto, diferenciava “homens” de “bestas”, em palavras da época.
Na Era Vitoriana, no século XIX, consideravam-se emoções e sentimentos inimigos da atenção. Enquanto esta possibilitava o desenvolvimento do saber científico e o domínio da natureza — e era um atributo dos “homens” centrados, que dominavam a si mesmos —, os instintos, paixões e emoções eram fraquezas dos “moles”, dos “doentios” e dos “degenerados”.
Já no século XX, o behaviorismo de B. F. Skinner entendia atenção como processos puramente comportamentais (ação e reação) e não cognitivos — ou seja, humanos e animais voltavam a serem similares. Estudos com pombos, por exemplo, demonstram que eles são seletivos no consumo de insetos de um mesmo tipo, mesmo que haja diversidade de insetos à disposição — e que quanto maior, em quantidade e variedade, for o banquete de minhocas e lesmas, mais atenção eles têm de dedicar à seleção, negligenciando outras informações do entorno, como a ameaça de um gato à espreita.
Foi na década de 1970, diante de informações que começavam a abundar em formas de documentos, registros e de cartões perfurados ou meios magnéticos, com os primeiros computadores, que a atenção começou a ser vista como recurso escasso; portanto, economicamente valioso.
A primeira teorização a respeito, que conceituou “Economia da Atenção”, é do psicólogo e economista Herbert A. Simon, em 1971. Depois, o termo ficou um pouco adormecido, até voltar à tona no início do século XXI, com Thomas H. Davenport e Michael Goldhaber, a internet, o início do big data e dos produtos digitais, principalmente as redes sociais.
Hoje, estudos compreendem a atenção como aspecto do sistema cognitivo, que conta com muitas outras capacidades para que sobrevivamos. Testes de psicologia cognitiva demonstram que ouvir música de fundo piora a eficiência na realização de outra tarefa, em graus distintos. Ou que é mais fácil fazer duas tarefas de modalidades diferentes concomitantemente (uma cognitiva, como aritmética, e outra motora, como andar) do que fazer duas tarefas da mesma modalidade ao mesmo tempo (alternar entre duas tarefas motoras, por exemplo).
O conceito de “Sistema 1” e “Sistema 2” do psicólogo e economista comportamental Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar: duas formas de pensar é uma forma interessante de se pensar atenção (ou alocação de recursos cognitivos) para o contexto da economia e de produtos digitais.
Sistema 1 é o nosso "piloto automático", o que usamos ao lavar a louça, correr na esteira, dirigir o carro ou desviar para não esbarrar em alguém vindo em nossa direção — muito eficiente e econômico em termos energéticos.
Sistema 2 é aquele que usamos para realizar cálculos, apreender a definição de um conceito num livro, construir este texto ou interpretar uma norma jurídica — o que envolve uma dedicação maior de energia mental e absorção na tarefa.
Do mundo fácil das heurísticas às exigências da razão
Nos primórdios da indústria da tecnologia da informação, atenção era um recurso usado por um número pequeno de profissionais. Uma grande parcela de seres humanos ainda estava às voltas com produtos físicos e com um gasto de atenção “moderado”, digamos.
Numa fábrica, a produção de artefatos físicos exigia muito mais do Sistema 1 do que do Sistema 2. As tarefas eram monitorar máquinas ou exercer trabalho braçal. Você pode ficar absorto em imaginação — flutuando em pensamentos vagos, no jogo de futebol da noite anterior, na pessoa que cruzou com você pela manhã — enquanto desempenha a tarefa, sem ter de forçar uma atenção onerosa ao que está fazendo.
Do lado do consumidor, você provavelmente vivia a maior parte da vida no fluxo de pensamentos gratuitos e um pouco sem lógica, até dedicar algum tempo ao telejornal, quando concentrava um pouco de atenção naquilo que mais o “capturava” (um fato bizarro, um comercial engraçado) e se deixava fruir em uma imagem em movimento, em um detalhe do nariz do apresentador, um mosquito pousado na TV.
Ao consumir, também havia alguma disciplina no dispêndio de atenção. Você se dirigia ao supermercado e lá dedicava foco a produtos por determinadas horas. Continuava vivendo no fluxo de pensamentos difusos, gratuitos, sem registros para a posteridade. Além disso, a atenção podia ser distribuída entre audição, visão e raciocínio abstrato.
A Internet e a ampliação do acesso à informação modificou profundamente esses hábitos. Como ela é composta de textos e imagens, mas predominante de textos, passou a exigir muito do sentido da visão e da cognição em detrimento de outros, como tato ou olfato — extremamente importantes para quase todos os mamíferos na interação com o mundo e com seus pares, vide cachorros farejando rastros de outros ou babuínos coçando as costas de familiares.
Você passou a dedicar uma grande quantidade de energia do Sistema 2, mesmo que intermitentemente, para compreender cada trecho do texto nesta tela, mentalizar uma explicação, calcular equações, entender o que um gráfico quer dizer, ler relatórios. Se não fez isso, tentou otimizar e passou rapidamente sobre a tarefa para logo pular para outra, sem lembrar dos detalhes.
Você, enfim, ganhou de graça a lista de rolagem infinita, que nunca existiu na natureza, querendo informar tudo que está acontecendo no mundo no último segundo. Você também passou a ser interrompido por cada vibração tátil, som artificial ou notificação visual enquanto tentava acompanhar as novidades.
Acontece que o cérebro não evoluiu a ponto de suportar tanto dispêndio de energia. Não recebeu upgrade para lidar com big data e tem de se virar como pode, gastando uma energia absurda do Sistema 2 e tentando transformar rapidamente em hábitos (passar para o Sistema 1 por meio de repetição) o que consegue para continuar processando informação que chega.
Resultado: nos pegamos automaticamente arrastando a tela para baixo na ânsia por atualizações, olhamos a tela com frequência para ver um pin ou mensagem nova, percorremos uma lista de links abrindo os mais interessantes em várias abas do navegador, como se fôssemos capaz de reter toda aquela informação em minutos, enquanto continuamos “programados” para dedicar algum esforço à busca de alimento, reprodução e descanso.
Quando nos demos conta, estávamos viciados
A economia digital é um sistema que envolve tecnologia, informação e pessoas. Exclua-se uma destas partes e nada do que discutimos aqui existiria. À medida que mais informação passou a ser criada ou indexada a essa economia, por meio da internet, mais a tecnologia foi guiada para facilitar o fornecimento dessa informação — sua organização, seleção, edição, destaque etc. — às pessoas.
Mais pessoas na rede, mais informação criada ou gerada em feedback ao sistema, mais possibilidade para a tecnologia se desenvolver, mais informação fornecida, ou seja, realimenta-se o ciclo, em uma espiral que cresce quanto mais informações e mais pessoas entram no sistema. É o chamado “efeito de rede”, conceito econômico central, aliás, para diversos produtos digitais que conectam diferentes tipos de usuários, como o Spotify, o Mercado Livre, a Uber, o Ifood, entre vários outros.
Lei imutável de mercados, a oferta de informações passou a ser exponencialmente maior do que a demanda em forma de atenção, recurso finito e, neste cenário, escasso. É a partir do que a demanda por Product Designers ou designers de UX (user experience, experiência do usuário) e por Product Managers (gestores de produto) passou a fazer sentido, a crescer e a se especializar.
Afinal, como captar mais atenção das pessoas para as informações que estamos oferecendo? Como ser mais esperto que o concorrente nessa disputa por atenção? Haveria alguma forma de garantir uma atenção quase plena ao nosso produto?
Certamente, pouca gente partiu com intenções de causar males a usuários, até porque, se sentissem prejudicados, estes não dariam atenção a algo que lhes estava sendo oferecido. Na tentativa e erro, negócios focados em conteúdo — música, no início, depois notícias (jornais, revistas) e relatos em geral (blogs etc.) — foram os primeiros a explorar essas questões. Buscas vieram na sequência, tentando catalogar, organizar, listar o que estava começando a se acumular de informação.
Até surgirem as redes sociais, uma espécie de supermercado (ou videogame?) de nossas próprias vidas, com novos produtos repostos a cada segundo, muito mais atrativos do que guloseimas: narrativas sobre emoções, expressões, feitos, ideias, a Caixa de Pandora de nossas crenças, opiniões e intimidade.
São as redes sociais o terreno mais fértil para experimentações e implementações que atualmente dominam outros tipos de produtos digitais. Com exceção de produtos B2B, que conectam uma tecnologia a outra (APIs, por exemplo), desde aplicativos bancários a de entregas, de telemedicina ou telepsicologia à educação à distância, de compartilhamento de itens a produção de conteúdo, de aluguéis a jogos — que também estão na origem de muitas experimentações —, ficou claro que não bastava ter algo disponível que, simplesmente, várias pessoas usariam do nada.
Foi necessário apostar em métodos de atrair usuários, retê-los, seduzi-los a pagar pelo que lhes era oferecido, aproveitando-se de quaisquer recursos viáveis para isso, até porque parece ser tudo mil maravilhas, fizemos algo ótimo, usuários irão (ou acreditamos que irão) achar ótimo, todos comprarão e viverão felizes para sempre. (Muito do hype em torno de tecnologia, disrupção, Vale do Silício, na primeira década do século XXI, alimentou-se deste otimismo imaturo.)
Até que o tempo fez seu trabalho. Pesquisas mostram, por exemplo:
que millennials verificam seus smartphones 150 vezes por dia e que mais da metade (53%) checam os aparelhos pelo menos uma vez na madrugada;
que o consumo de redes sociais relaciona-se aos chamados “loops de dopamina” (substância que está no cerne do comportamento de buscas, do “querer”, de humanos);
que a atenção aos dispositivos leva até 15% de brasileiros a atravessarem ruas teclando;
que depressão em meninas está associada a um uso maior de mídias sociais;
que, em 2018, a Cambridge Analytics, empresa de análise de dados e inteligência artificial, usou informações de 50 milhões de perfis, principalmente do Facebook, captados em redes sociais, para perfilamento psicológico de eleitores e disparo de propagandas em massa, visando influenciar eleitores na campanha de Donald Trump, em 2016, e no Brexit, a saída da Inglaterra da União Européia, logo depois.
Do lado de negócios, excluindo-se as onipresentes big techs (Apple, Amazon, Google, Facebook), nem tudo são flores. também.
Estudos mostram que a grande maioria (90%) dos usuários abandonam produtos após 30 dias, 77% o fazem após três dias e 23% largam a brincadeira já no primeiro uso2. É lugar comum dizer-se que até 90% das startups e seus produtos falham por não atingirem market-fit, algo como ser adotado por um nicho de consumidores capaz de escalar e nutrir a iniciativa, seja com receita direta ou com dados, usados no direcionamento de anúncios.
A designers e PMs, durma-se com um barulho desses. De um lado, a possível sensação de que se está ajudando a escalar depressão, vício e ódio em usuário. De outro, o possível fracasso em não levar o negócio a atingir suas metas.
Afinal, existe caminho para conciliar “dores” legítimas de usuários sem fazer consumidores cair nos tais loops de dopamina, mantendo iniciativas tão simples quanto apertar o botão para acender uma lâmpada?
Aprofundar estudos e decidir o que queremos
As saídas para esses dilemas passam muito menos por técnicas, ferramentas e ações e mais por reflexão, diálogo, esclarecimento e acordos. Em suma, não existe bala de prata e precisamos recorrer à ciência e à política.
Um exemplo de ativismo nesta frente é o do ex-Google Tristan Harris, que estrelou “The Social Dilema” na Netflix, filme que reúne outros ativistas para tratar do impacto de mídias sociais. Harris atuou como especialista em ética de design na Google e ganhou destaque em 2013, após uma apresentação, intitulada “A Call to Minimize Distraction & Respect Users’ Attention”, a milhares de funcionários da gigante de tecnologia, sobre a responsabilidade para com a atenção de usuários.
A partir de então, passou a conscientizar sobre consequências que mídias sociais acarretam, como vício, distração, isolamento, polarização e fake news, o que, segundo ele, são causadas por modelos de negócios em torno da máxima captura de atenção humana, principalmente para anúncios.
Um ponto interessante de suas falas é percebermos que não somos totalmente “donos” de nossas escolhas e o quão influenciáveis somos, a partir de escolhas sutis de outros; no caso, empresas de tecnologia. Harris tem defendido uma série de medidas para regulação de mídias sociais.
Obviamente, ainda não sabemos qual seria um número mínimo de push notifications que seria saudável de enviar a usuários e certamente não passa pela cabeça de nenhum empreendedor ou gestor de produto limitar o uso de uma aplicação a algumas horas por dia ou a pessoas que declarem ter condições de não se viciar naquilo. Seria como trocar receita por caridade, pelo menos no contexto atual.
Mesmo sem mexer no core do dinheiro, há alguns pequenos exemplos citados como positivos em termos de melhorias no consumo de atenção, como o fato do iOS reconhecer se um usuário está dirigindo e limitar notificações a ele naquele momento. Mas parece muito pouco, ainda.
No cenário de pesos e contrapesos, regulamentações como o General Data Protection Regulation (GDPR), a política europeia de proteção de dados pessoais, e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, vêm para tentar equilibrar a balança a favor de usuários.
Iniciativas que agrupam profissionais da linha de frente da tecnologia também têm muito a contribuir, pois conseguem encarar problemas conhecendo os meandros técnicos de produtos.
Uma dessas iniciativas é o Ethical OS, um conjunto de ferramentas para se tentar antecipar o impacto social a longo prazo da tecnologia e eventuais usos inesperados. Vale um mergulho nele por tratar de temas proeminentes da área, como Addiction & Dopamine Economy (economia de vício e dopamina), ética de máquina e vieses algorítmicos, ódio e crime, desinformação, entre outros pilares. É um guia para a mitigação de riscos.
Mais do que ficar restrito à bolha do mercado de tecnologia, de profissionais, hard users de aplicativos e especialistas da área, talvez seja hora de trazer quem entende de saúde mental, educação e outros aspectos relacionados para o centro do debate e das implementações, como os psicólogos, cientistas cognitivos, educadores e cientistas sociais. É o que o especialista em machine e deep learning Aidan Gomez defende nesse TED Talk, por exemplo.
Outro ponto fundamental, nesta linha, é estabelecer princípios que sejam centrados no usuário de fato, como deixá-los escolher e fornecer esclarecimentos sobre benefícios e malefícios do uso de um produto, como já é feito com alimentos que possuem gorduras trans, sal ou açúcar em excesso.
Isso implica em não apenas “usar” os usuários para determinados fins, dando-lhes um controle aparente, mas ser transparente e “co-criar” produtos com os mesmos.
Não será estranho se surgirem legislações que endureçam regras específicas, como as que limitem determinadas features de produtos para crianças (a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já determina cuidados diferenciados para dados pessoais de crianças e adolescentes). Também devem crescer debates em torno de padrões globais para uso, compartilhamento e tratamento de dados, como se está vendo na Europa.
Por fim, esbarramos sempre na necessidade de política (difícil e demorada, mas essencial) para definirmos, como sociedade, o que queremos e se queremos que a atenção seja só uma matéria-prima explorada sem regras, como num velho-oeste, ou se queremos resguardá-la para outras finalidades (talvez para sanidade mental, o que já seria bem nobre).
Paradoxalmente, para não nos afogarmos num excesso de estímulos que tentam capturar atenção a todo custo, talvez seja essencial dedicarmos mais atenção justamente àquilo que a consome: a economia dessa capacidade escassa.
Artigo escrito por Rogério Kreidlow, jornalista, que gosta de observar a tecnologia em relação a temas amplos, como política, economia, história e filosofia.
Do inglês, “Acquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue (AARRR)”, expressão usada pela primeira vez pelo empreendedor e investidor anjo Dave McClure em uma apresentação, em 2007.
Vide este texto da Product School, que cita pesquisa do The Mobile Intelligence Report.



